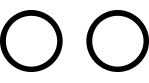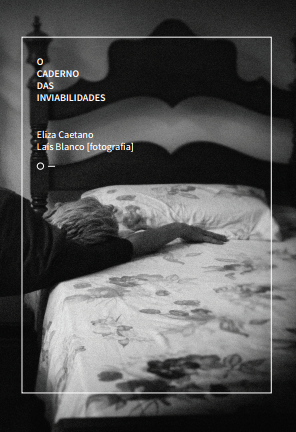Em seu livro de estreia, Mariana Artigas bate-nos à porta apresentando uma poesia do desfazer-se. Na escavação de seu sítio arqueológico, encontramos vestígios do passar dos séculos, mitologias, putrefações mil e ossos em laços. Aqui, o corpo é personagem. Entre “bocas vorazes” e “corpos ébrios”, amantes fogem na noite ao ritmo de canções de travessia. Entre barbas que se roçam e pequenos esqueletos que se dobram, nasce a potência daquilo que é frágil e, por isso, humano.
Nesse claro enigma de “tempestade em preto e branco”, desenha-se a anatomia da impermanência, entre morte e ruína: de homens, cidades e civilizações. Desgeografada, a poeta nos transporta de uma página a outra do Egito para a Grécia Antiga, com um breve remar pelo canal de Veneza. Sua mitologia é da ordem do onírico, da ordem do voluptuoso – “petite mort – cena divina”.
A ossatura que a leitora ou o leitor carrega em mãos é também cênica, com os corpos pintados nos versos, delineando performances no balé da sobrevivência. O livro é palco, o corpo é palco, não há linha tênue se são exatamente os mesmos, confundindo-se e confundindo-nos. Busca ainda outros lugares, sutis e elevados, para a intersecção mulher, feminino e dor. Não é óbvio. Alça novas estéticas ao se propor (e realizar) experimentos de linguagem e imagem, os quais não serão tão facilmente apagados pelo tempo.
Num jogo de espelhos, enlaces e desenlaces, entre janelas italianas e deusas quase esquecidas, o dilúvio domina, mas ainda assim, verso a verso, se germina o porvir. Como colocou Paul B. Preciado em seu Um Apartamento em Urano, “quando tiverem perdido toda a coragem, loucos de covardia, desejo que inventem novos e frágeis usos para seus corpos vulneráveis. Porque a revolução atua através da fragilidade”.
Sacerdotisa do tempo, Artigas profetiza. O novo, o belo, o real.
Beatriz Rocha