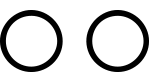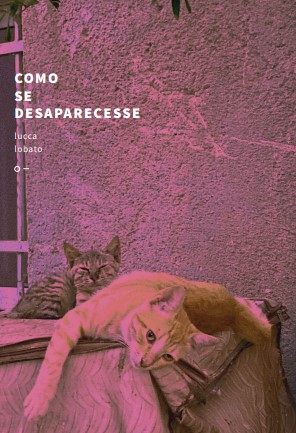O que pode residir no último galho de um poema, no auge do sonho, em sobrevida? O livro de Lucca Lobato inicia-se com um poema de luto, espécie de nênia para o seu gato Kurama — “aquele que possui a verdade”. A verdade de Kurama era descansar ante o abismo. Talvez seja da perda ou do desaparecimento dessa verdade que se trata o luto, e é da perigosa aprendizagem do entocar-se que a escrita de Como se desaparecesse se constrói, ela mesma entre o esconder-se e o ser descoberta.
Aqui, a porta que poderia separar o eu e o mundo é elemento de condensação. Desaparecer é fazer desaparecer o mundo. Um céu não mais se abre, mas abriga a dicção de um eu que pode ser dito em vogais abertas — “tradução impossível/do que se faz entre nuvens”. Um eu que é “Bartleby do avesso”, um eu que é outro, outro também natureza: o céu, a tempestade, o rio. A tempestade é a palavra do amor — e assim o mundo poderia acabar inundado.
Dentre os poemas, é possível ler o sentimento daquele que se encontra entre tempos — o de existir e o de deixar de existir — e que é feito portanto de substância temporal. Um dissenso ressentido, sentido novamente no seio vazio, mas que busca algum sentido em um mundo que parece trancado. O livro se faz nesta “repetição da invenção/sem fim”. Uma poesia do sumiço, uma escrita sob a sua ameaça, cuja linguagem obriga o leitor não só a testemunhar, mas a, de alguma forma, também escrever o desaparecimento. É como se o olho lavasse, digo, levasse a escrita. Um livro que se propõe a desaparecer sob o olhar do outro, não como a figuração de uma inibição, mas com uma “total inversão de sentido”, desenhando uma “ilha deserta imagem/dinâmica miragem morada” no olhar de quem lê. Escrever um gozo fora do corpo, mas também perder a linguagem, quebrar as palavras, não mais saber falar, e dizer ainda assim. Dizer desde esse lugar de recolhimento onde o acolhimento falta.
Aqui, se as cartas são lançadas, não abrem a porta. E não precisam. Sua linguagem é como uma flecha que corta o mundo diferentemente a cada vez, a cada direção. O ato é falho, tropeça para destravar, corta a língua, fabrica sangue capaz de dizer outra verdade, que pode se tornar raiz ou ruína — a verdade do corpo por muito tempo observado por Ana Cristina Cesar. O corte e a morte são também nascimento, seja das cinzas, da dor ou da força. Como se desaparecesse faz da ameaça do desaparecimento o anúncio da escrita (“o que eu não podia/era não escrever”).
Bárbara Gontijo