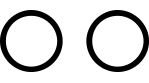O que permanece na certeza de que tudo convalesce?
Em seu livro de estreia na poesia, Gabriela Porto Alegre nos diz que é preciso fazer com as palavras um pacto de sujidade. Regida por esse pacto, reorganiza órgãos e verbos, células e sujeitos, sílabas e organelas nas mais inusitadas composições até acessar as memórias escritas no avesso das carnes ou na escuridão dos ossários do passado — memórias herdadas das mães, das avós, das mulheres que as antecederam: “escutemos/ a primeva sinfonia das vísceras”.
Nada que se assemelhe a qualquer animal vivo nos mostra como sair do corpo para ocupar um corpo. Ainda que somando cortes e dando a eles um torniquete com o perfex, de modo que o fechar dos talhos acorde um novo sentir a léguas e léguas de distância do velho sentido. É na potência de versos lapidados para retomar o latifúndio arrendado do espaço-corpo que a poeta abraça a derrocada de estar viva, enquanto nos diz, entre sussurros e gritos, que: “o corpo/ não pode ser meu/ porque, como tudo, está à venda”.
A poesia de Gabriela não chega para nos lembrar, para nos convencer, para nos conduzir: ela chega, ela existe, ocupada do propósito nada simples de existir e compreender seus fins. Em versos vigorosos, rompe com a necessidade de aprovação, com a sujeição, com a serventia — quando afirma que “poucos gestos são tão importantes quanto venerar a inutilidade” — e com outras tantas falácias que têm apequenado mulheres.
Estes versos auscultam sinais e segredos vitais da semente à carcaça. Algo que sentimos e quase, quase sabemos, mas que, sem a poesia para nos tirar do torpor e nos lançar entre o incêndio e o maremoto, permaneceria intacto em algum lugar em meio às entranhas do ser. Com unhas recém-lixadas, Gabriela descortina aquilo que sangra debaixo da pele.
Juliana Blasina, poeta