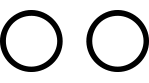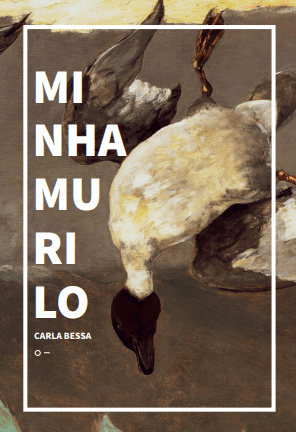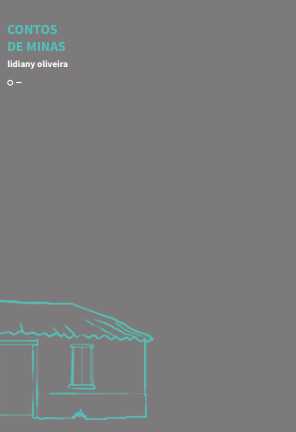— Já sei, já sei o que vai dizer: como assim ter a própria voz? Se minha voz sai de baixo d’água, como vão entender? Te digo: não sei. Não sei como vão entender. E na verdade, te pergunto: e quando você falava por mim, será que entenderam? Tantos fragmentos, tantos pensamentos soltos, tantos sentimentos vagando no oceano. Será que entenderam?
Se, por um lado, escuto, fragmentadamente, as várias vozes d’A menina que carrega oceano na cabeça, e as vozes daquelas que se cruzam com ela, por outro Filomena faz com que eu imagine visualmente cada uma delas (uma protagonista com dores justificadas e necessárias de pescoço, Manoel [de Barros], um ventilador ou uma bicicleta) circulando num universo tão particularmente terno quanto dialético. São, de facto, os diálogos ou a conversa gigante que a menina tem com ela mesma que motivam e marcam os segmentos verbais desta odisseia individual.
Escrever é preciso, viajar não é preciso.
Não é sobre travessias ou travessuras que a Menina está a pensar.
Pensa nos modos.
Nos modos que as letras, as frases e os pensamentos movimentam.
A travessia, de quem se endireita permanentemente sob as dificuldades de suportar o oceano sobre os ombros, materializa-se, portanto, na palavra; e a diversidade polifónica d’A menina corresponde, de modo inequívoco, à hibridez formal que se desenvolve invariavelmente entre géneros: microconto, prosa poética, poema, carta?
Não há como definir A menina que carrega oceano na cabeça. E é precisamente da liberdade da indefinição que Filomena está falando.
— Não sei se entenderam. Sei que contei suas histórias da forma que me chegavam. Se você estava confusa, talvez eu não tenha conseguido desfazer a confusão. Respeitei o que dizia, não quis interferir e nem criar nada. Se calhar estava errado. Talvez fosse melhor se tivesse inventado umas coisinhas ali e aqui.
Patrícia Lino