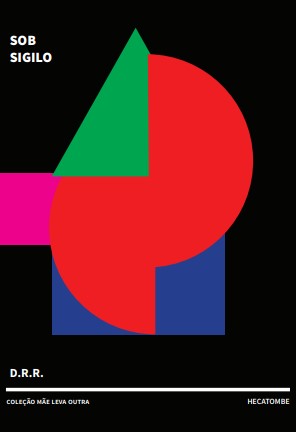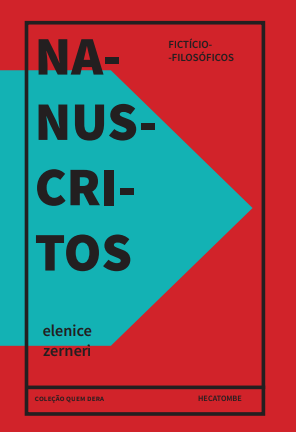Entramos, como leitoras, neste livro, sem nenhuma indicação. Não temos no que nos apoiar, pois não conhecemos os contextos, a identidade das personagens, nada que nos assegure terreno real. A única pista é o título, e o próprio conteúdo do texto.
Há algo, porém, que sabemos (e bem sabemos): há um corpo de mulher cravado em cada violência que estas frases “soltas” nos trazem, um corpo que não aguenta mais, e grita. E o desespero desse grito, esse conhecemos bem. Ele ressoa no nosso corpo.
Essa mulher é uma mãe. Está desesperada. Já estivemos desesperadas muitas vezes, já tivemos medo. Já fomos invadidas pela fúria, porque a dor reverbera em nossas células mais escondidas.
A dor de uma mãe desesperada é uma marca que ressoa em nossos corpos que menstruam e que guardam gargantas machucadas pelos inúmeros sigilos que nos foram impostos, desde a infância, desde o primeiro “Fecha a perninha!” que ouvimos, desde o primeiro “Baixa a calcinha!” que muitas, muitas de nós ouvimos.
Quanto sofrimento pode ser guardado em um único corpo? Não sabemos. Sabemos que o sistema permite a manutenção de estruturas desonestas, escraviza corpos, vende lenitivos de todos os tipos, gera fome e desigualdade, impõe a violência sob as mais inúmeras formas. O sigilo que nós mesmas nos impomos, sobre tantos acontecimentos das nossas vidas, também pode ser pensado como uma forma dessas formas de violência.
O que salta da leitura de uma obra como esta, também, é a reflexão sobre o próprio desenho de uma ideia de família “feliz” estruturada e calcada na idealização de um comportamento adequado da mulher. Afinal, não podemos perder a compostura.
Ainda que o sangue que irriga os sete mares das violências seja o nosso (e Quem dera o sangue fosse só o da menstruação) algo nos é constantemente exigido: que fiquemos quietas, não importando a medida do nosso desespero.
Telma Schrerer